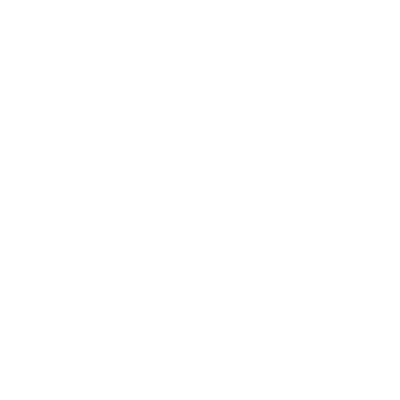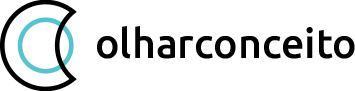Estamos acostumados a lidar com a fotografia familiar, o álbum de infância, cortes do tempo que nos remete a nós mesmos ou a um tempo que precede a nós: uma fotografia da mocidade de nossos pais, por exemplo. Existe, no ato de olhar essas fotografias, pequenos prazeres no reconhecimento. Um álbum é um amontoado de congelamentos: podemos observar e restituir a lembrança “recolocar-me no contexto, reinscrever-me no tempo da história”. O corte foi feito, a fotografia tem o poder de transformar-se em furo no tempo, no qual podemos mergulhar. E muitas vezes duvidamos do que as fotografias transparecem: parece que elas são capazes de nos fazer fabular histórias, contar inverdades que as justifiquem, mentiras que invertem a primazia da memória por sobre a imagem, trazendo a imagem precedendo a memória.
Oliver Sacks escreveu uma vez (a ironia de não me lembrar onde), sobre uma memória sua, de infância: houve um bombardeio em Londres e o jovem Sacks ajudou o pai e o irmão a apagar o fogo que incendiava a cidade. Ele descreve a cena: imagem nítida, fresca em sua memória, os baldes cheios de água passando de mão-em-mão. No entanto, após a publicação do relato em um periódico, o irmão de Oliver Sacks escreve para ele, respondendo algo como: “ você nunca esteve lá”. O caso é que o menino que uma vez foi Sacks, de fato, não havia participado da resistência ao incêndio, mas recebido uma carta da família, na qual alguém relatava vivamente, retratava a cena. Sacks afirma que apesar da alegada falsidade de sua memória, no entanto, a lembrança, a imagem de sua família apagando o fogo em Londres, continuava a mesma: vívida, portadora de uma realidade ideal.
Gosto de pensar que essa vontade impetuosa de participar acontece também quando olhamos uma fotografia: com ou sem a nossa presença nela. Com, no sentido de que sabemos que somos capazes de aplicar a inversão e “lembrar” do momento mesmo no qual a fotografia foi tirada. E sem nossa participação na cena. Apesar de não estarmos ali, ao observar uma fotografia do álbum de família nos perguntamos: “mas onde é que eu estava?”,“ será que fui eu quem fotografou?”. Ali está a minha cama, minhas irmãs: eu estou ali também, apesar de sem corpo-imagem, “minhas coisas” me representam, “minhas pessoas” me representam. O álbum de família nos contém apesar da ausência, o fantasma está lá e a ausência é marca, é traço da presença, pois nenhuma ausência pode haver senão em detrimento de uma presença. E o tempo congelado é imperdoável: ele jamais será honesto porque está enjaulado. Ele jamais dirá a verdade porque está morto e a premissa da verdade da fotografia é ingênua. Mas, ressaltemos, estamos falando dos álbuns de nossas famílias: a possibilidade de retratos íntimos tem a força da promessa da verdade em uma história que é nossa e não somos céticos a nós mesmos. Isso, porém, acontece no tocante das fotografias de um outro?
O retrato de uma alteridade caminha em minha memória. Piero della Francesca foi um grande retratista: busco na memória reviver o sentimento de encontrar um rosto, reencontrar uma fisionomia. Prática comum entre os fidalgos contratantes de artistas, no Renascimento, era fazer-se retratar nas circunstancias da vida de Cristo. O mesmo sentimento, a surpresa e a delícia, aquela leve ansiedade, de ver um rosto conhecido numa multidão: “aquele é meu colega de classe, devo acenar?”, “ ele me reconheceu?”. É assim que me sinto quando reconheço os retratos pintados nos afrescos.

Se estudarmos e, de maneira contingente, descobrimos a situação da pintura, sabemos que aquele ali, com o nariz curvo é retrato de um homem que não estava na história. Eles não participam realmente dessa história, mas o que importa, de fato? Lá está: o nariz curvo ajoelhado perante Cristo infante. O reconhecimento de um sujeito que se transforma em alteridade não prescinde da verdade do outro em um recorte de espaço/tempo: nós acreditamos no rosto, na repetição de uma aparência, de uma face familiar. Vou chamar esta característica de generosidade da fisionomia. Qualquer rosto pode ser familiar, mesmo distante de nós, um rosto é capaz de tornar-se nosso acompanhante eterno. O colega de classe que pode não ter nome, não ter voz, nenhuma informação particular sobre si mesmo para nós, instaura-se em nossa memória sem nenhuma necessidade de doação voluntária. Nosso inventário de fisionomias atualiza-se sem esforço, nem de minha parte, nem da parte do outro, seu corpo está para meu corpo, como o contrário acontece.

Uma nota biográfica: já contei aqui de quando não sabíamos ler, eu e minhas irmãs. Passávamos nossas horas “de leitura” com nossos livros ilustrados. Já sabíamos a história de cor, - minha mãe costumava ler para nós -, mas mesmo assim gostávamos de inventar novos contextos para as imagens, uma história diferente, contada através das figuras do livro. Escrevi quase a mesma coisa quando pretendi falar sobre Piero della Francesca. Quando pretendi falar da minha história inventada sobre a pintura Piero della Francesca. Sou capaz, de inventar histórias para as pinturas de Piero: de uma certa forma, continuar ignorante aos conhecimentos da história das palavras e me demorar nas imagens, inventar outra coisa. Dou nomes novos por não saber quem é quem. Resolvo gostar da figura com capacete, descubro um cavaleiro coberto de armadura, fabulo o significado dos símbolos das bandeiras.
.jpg)
Retorno às fotografias de uma infância que não é a minha, empolgada com minhas criações. Uma amiga mostrou-se em três imagens, certa vez. Muito diferente do que ela é agora, adulta e me vejo numa tentativa de ligar as duas, a menina e a mulher Mariana. Essa ligação seria um modo de defender e preservar a verdade da imagem? Da história das transformações, sempre desconfiei. Nos livros de geografia estava escrito: essa é a cidade tal (nome), antiga outra (outro nome). Sou forçada a acreditar na passagem de uma cidade à outra. Lá estava Mariana mulher, antiga Mariana menina.
Espere... quero escrever dessas fotografias. A primeira, a menina segurando um pintinho, amorosa. Balões na parede e um ventilador. Sua mãe ao lado, sua mãe? Sou capaz de fazer predicações, sou muito corajosa e vejo a fotografia dotada de minhas fabulações. Eu sei que aquela é a mãe da Mariana. Me parece que sei, mas, como disse antes, Oliver Sacks acreditava que sabia.

Na outra fotografia, o enquadramento muito torto “combina” com a menina muito torta. Vê-se muitas molduras: um espelho, porta retratos, janela. Duas entradas em perspectiva, retangulares. Tudo isso parece-me como uma tentativa de contenção e Mariana se desdobra e se projeta. Parece que era ano novo. Dia um do um de 1994, a data está gravada na fotografia. A irmã de Mariana, (seria mesmo), está atrás, posando. Mariana a está tampando e o espelho não reflete nada novo, não indica nenhuma presença além das duas.
.jpg)
Mais, ainda na terceira fotografia, de janeiro de 1997, coisas tortas, tontura. Mariana está em um colchão, o colchão está no corredor impedindo a passagem pela porta branca. Uma boneca, entregue como boneca mesma, como Mariana está para o colchão.

Me jogo no colchão. Remonto a sensação de já ter feito o mesmo, quem sabe no ano de 1997. Eu e Mariana temos idades semelhantes. Quase posso sentir o plástico comprimindo-se sob meu corpinho infantil. O ar e o vácuo em uma briga desesperada, abrindo espaço para o meu peso. Para olhar fotografias invisto meu corpo, corporifico a outra, Mariana. Fico sendo um pouco dela, do congelamento dela na imagem. Assim, faço reviver o tempo morto da fotografia: porque inflo seu corpo com a pneuma, com a alma-sopro. Isso é a generosidade da fotografia de pessoas: a permissão do escorrer de um corpo ao outro, de esquentar o tempo e fazê-lo pulsar uma outra vez.
*"Seja Breve" é a coluna semanal sobre arte de Leíner Hoki, 22 anos, cuiabana. Atualmente cursa belas artes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte.
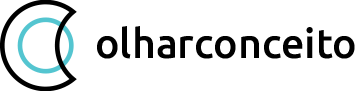
(1)(1).jpg)


.jpg)

.jpg)