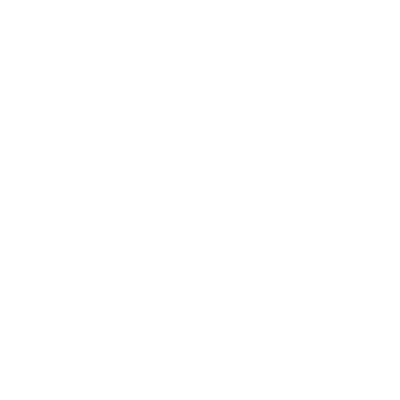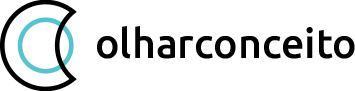Colunas
Miguel Torga: o homem e suas mãos calejadas
Autor: Matheus Guménin Barreto
06 Jun 2016 - 14:44
(1)(1).jpg)
Danilo Bezerra
[Antes de começar a coluna de hoje, vou repetir o aviso dado na coluna anterior (e farei isso por mais algumas semanas); a saber: “Acho interessante esclarecer algo que já me parecia claro, mas que talvez ainda não esteja: este texto (ou os anteriores, ou os próximos) não é uma análise propriamente dita – lhe falta profundidade de análise, profundidade essa que não é meu objetivo desenvolver aqui, e que não me caberia alcançar em meia página de jornal. Este texto é uma conversa com o leitor. Apenas isso. Aviso feito, vamos à conversa de hoje.]
Miguel Torga (1907-1995) foi um poeta, contista, dramaturgo e memorialista português. Vou me concentrar durante essa nossa breve conversa na poesia que Torga escreveu na década de 40, fazendo alguns comentários acerca da relação entre essa poesia e a da década anterior. Creio que foi na década de 40 que Miguel Torga alcançou o nível de criação poética que o fixou como um nome importante na poesia portuguesa do século XX, e quando se comparam os poemas da década de 30 (versos largos, esparramados, cheios de pontuação dramática [ou dramalhona], soluções não muito originais) àqueles da década de 40 (muito mais concisos, limpos, enxutos, sem grandes arroubos de adolescência e bem mais conscientes daquilo que querem e podem alcançar), essa divisão de qualidade na criação artística de Torga fica relativamente clara.
Dos comentários que fiz acima e em outras colunas já se pode notar que não tenho a poesia dita “melosa” em alta conta, mas minha opinião em relação a esses poemas não se dá só por causa dessa minha preferência. Creio mesmo que o poeta ainda não tinha tanto controle sobre a sua força criativa nem sobre as ferramentas da poesia que estavam à sua disposição. A partir de “Libertação” (1944), no entanto, o poeta Miguel Torga já é o poeta Miguel Torga. É claro que um esquema grosseiro como esse que eu expus não dá conta das nuances de cada livro de poemas das décadas de 30 e 40, pois já havia mesmo exceções gritantes a tudo o que eu disse aqui (no último livro da década de 30, “O outro livro de Job” [1936], há grandes poemas, como o ‘Livro de Horas’ e o ‘R-7’; ou então, no livro “Rampa” [1930], o poema ‘Balada da morgue’, que tem versos como os que se seguem: “Quero / Amar este sol da terra / Que mostra o calor do céu. / O alto céu onde mora / Um Deus que na mesma hora / nos criou e nos perdeu.”)
Comparações de grandeza (“este é o maior”, “esta é a maior”) entre poetas são sempre muito complicadas e normalmente falhas. Mas creio que um comentário comparativo entre momentos da produção de um mesmo poeta são sim válidos, principalmente quando esses comentários se debruçam sobre momentos de formação e de maturidade de um poeta. Ou seja: durante os quase 10 anos de publicação dos primeiros poemas de Torga (de 1928 a 1936), creio que ele ainda testava sua voz, testava os limites da poesia e suas ferramentas de predileção. A isso se seguiram 8 anos de silêncio, sem publicação (pelo menos não no formato de livro), durante os quais o poeta parece reformular seu fazer poético, repensar sua forma de criar, parece mesmo maturar e pesar suas ferramentas. E então ele publica em 1944 o grande “Libertação”. A partir de então fica difícil comparar um livro ao outro (pelo menos entre os grandes livros publicados dali em diante), porque eles todos são formulados já num nível altíssimo de criação poética, e a preferência dos leitores por um ou por outro se dá mais pelos gostos individuais do leitor do que pela qualidade da obra em si.
A obra de Miguel Torga a partir de “Libertação” (1944), passando por “Odes” (1946), “Cântico do Homem” (1950) e “Orfeu rebelde” (1958) e seguindo adiante é uma obra afeita ao chão, ao pequeno, ao homem e à mulher cujas vozes foram abafadas, ao homem e à mulher que fazem de si mesmos um pequeno milagre sem Deus. É uma poesia que, na falta de outra palavra, nos remete à velha e já não muito usada palavra “telúrico” (no Dicionário Online Aulete: 1. Ref. ao orbe terrestre [camadas telúricas]; TELURIANO. 2. Ref. ao solo [abalo telúrico]). A poesia de Torga é uma poesia da terra, do chão, do palpável. Mas do palpável que se concede a discreta dignidade do divino, de um divino que sofre, ri, é explorado, tem patrões, e segue em frente por não ter outra opção a não ser essa: seguir.
INVENTÁRIO [do livro “Cântico do Homem” (1950)]
“E, apesar de tudo, sou ainda o Homem!
Um bípede com fala e sentimentos.
Ao cabo de misérias e tormentos,
Continua
A ser a minha imagem que flutua
Na podridão dos charcos luarentos.
Sou eu ainda a grande maravilha
Que se mostra no mundo.
O negro abismo que tem lá no fundo
Um regato a correr:
Uma risca de céu e de frescura
Que murmura
A ver se alguma boca a quer beber.
Quanto o grave silêncio da paisagem
Me renega e protesta,
Pouco importa na festa
Deste encontro feliz;
Obra de Arcanjo ou de Satanás,
Eu é que fui capaz
De fazer o que fiz!
Podia ser melhor o meu destino:
Ter o sol mais aberto em cada mão...
Mas, Adão,
Dei o que a argila deu.
E, corpo e alma da degradação,
O milagre é que o Homem não morreu!
Não! Não me queiram na cova que não tenho,
Porque eu vivo, e respiro, e acredito!
Sou eu que canto ainda e que palpito
No meu canto!
Sou eu que na pureza do meu grito
Me levanto!”
(Um comentário bem rápido: o poema ‘Inventário’ parece quase uma releitura do poema ‘Prometheus’ de Goethe, publicado em 1789! Pesquisadores de plantão: aí está um bom início de uma Iniciação Científica ou de uma tese de mestrado).
Percebe-se também por parte de Miguel Torga uma leitura muito original da poesia antiga greco-latina, com seus deuses que andam entre os homens, têm filhos com eles e participam de suas dores e alegrias; com seus pastores poetas, seus vinhos e suas idealizadas irmandade e harmonia humanas. Leiamos o poema a seguir:
A BACO [do livro “Odes” (1946)]
“Vou-te cantando, Baco!
Não pela colheita de hoje, que é pequena,
Mas pela de amanhã, muito maior!
Vou-te pondo nos cornos estas flores,
Que não querem ser líricas nem puras,
Mas humanas, sinceras e maduras.
Vou-te cantando, e vou cantando o sol,
A terra, a água, o lume e o suor.
Vou erguendo o meu hino
Como levanta a enxada o cavador!
Lá nesse Olimpo em geios,
Único Olimpo etéreo em que acredito,
Aí me prosterno, rendo e te repito
Que és eterno,
Mais do que Deus e mais do que o seu mito.
Beijo-te os pés — os cascos de reixelo;
Olho-te os olhos de pupila em fenda;
E sabendo que és fauno, ou sátiro ou demónio,
Sei que não és mentira nem és lenda!
Dionisos do Douro!
Pêlos no púbis como um homem,
Calos nas mãos ossudas!
E bêbado de mosto e de alegria,
À luz da negra noite e do claro dia.
Cachos de alvarelhão de cada lado
Da marca universal da natureza!
Ela, roxa e retesa
Como expressão da vida.
A beleza
Sempre no seu lugar, erguida!
E folhas de formosa pelos ombros,
Pelos rins, pelos braços,
Por onde a seiva rasga o seu caminho.
E a cabeça coberta
De cheiro a sémen e a rosmaninho.
Modula a sensual respiração
Do arcaboiço fundo do teu peito
Uma flauta de cana alegre e musical.
E és humano,
Quanto mais és viril e animal!
Eis os meus versos, pois, filho de Agosto
E dos xistos abertos.
Versos que não medi, que não contei,
Mas que estão certos,
Pela sagrada fé com que tos dei!”
É como se a velha poesia, a velha poesia de pastores (poesia que, como toda poesia, é apenas construção, já que pastor nenhum já a escreveu de fato); a poesia bruta, limpa e transparente (que, repito, nunca existiu de fato, só foi e é idealizada – e qual o problema nisso?) fosse não retomada – já que, fosse ela retomada, ela invariavelmente viria com toda a poeira e monotonia dos livros pesadíssimos escritos sobre o que se imaginou ser a Grécia Antiga, sobre o que se imaginou ser a Roma Antiga –, como se ela fosse, repito, não retomada, mas inventada de novo. Inventada de novo das montanhas ásperas, do fermentar quase sonoro do vinho, do sol implacável e desinteressado. Inventada a partir das coisas palpáveis, moventes, vivas. Miguel Torga escreve como se fosse o primeiro poeta pastor: mas vestindo seu terno de linho, como todos os outros vestiam (ou algo a ele equivalente), ou seja: poeta pastor que não é pastor nenhum, mas que é o homem ou mulher de carne e osso – o que não é pouco.
Miguel Torga parece querer escrever sobre e para o homem e a mulher comuns portugueses. Ou ainda, como escreveu o filósofo espanhol Miguel de Unamuno (de quem Torga pegou o nome ‘Miguel’ para seu pseudônimo ‘Miguel Torga’) em seu “Del sentimiento trágico de la vida” (1913): “O homem de carne e osso, o que nasce, sofre e morre – sobretudo morre –, o que come e bebe e joga e dorme e pensa e quer, o homem que se vê e que se escuta, o irmão, o verdadeiro irmão”. Há obviamente algo de muito otimista na poesia de exaltação do homem de Miguel Torga, mas creio que seja mais um otimismo calcado no sofrimento humano do que um otimismo barato e ingênuo. O canto de exaltação se torna necessário justamente em meio ao horror.
CÂNTICO DE HUMANIDADE [Do livro “Nihil sibi” (1948)]
“Hinos aos deuses, não.
Os homens é que merecem
Que se lhes cante a virtude.
Bichos que lavram no chão,
Actuam como parecem,
Sem um disfarce que os mude.
Apenas se os deuses querem
Ser homens, nós os cantemos.
E à soga do mesmo carro,
Com os aguilhões que nos ferem,
Nós também lhes demonstremos
Que são mortais e de barro.”
Fazendo um último comentário bem rápido, apenas para que eu não me culpe mais tarde por não ter apontado essa relação: não há como não se lembrar de Hölderlin (especificamente da produção de Hölderlin na virada do século XVIII para o XIX) ao ler as odes e outros poemas longos de Miguel Torga, principalmente aqueles dos livros publicadas na década de 1940 (“Libertação”, “Odes” e “Nihil sibi”). Há algo de muito original na poesia dita “pastoril” de Torga, algo de uma força nova, fresca, como se fosse um novo olhar sobre os velhos elementos da velha natureza. Nisso a poesia de Torga ecoa algo daquela de Hölderlin, que escreveu sobre os gregos como se ninguém já tivesse escrito sobre eles, e sobre paisagens como se elas nunca tivessem sido vistas. Há, resumindo, algo de bruto e original na sofisticação dos dois poetas.
*A coluna Rubrica, publicada às segundas no Olhar Conceito, é assinada por Matheus Guménin Barreto. Matheus Guménin Barreto estuda literatura alemã na USP, escreve sobre literatura para jornais do estado de Mato Grosso, é tradutor e escreveu um livro ainda inédito de poemas, que sairá entre 2016 e 2017.
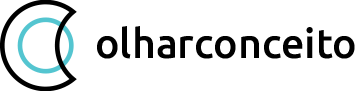
(1)(1).jpg)